A primeira vontade que sinto é a de tentar contornar o viciado debate entre ficção e historiografia, embora ele seja tentador. O fato é que o livro não parece render muitos frutos se questionamos a qual gênero ele pertence; lê-lo como um romance nos traz o problema de questionarmos sua razão de existir , já que à primeira vista não há nele nada que já não seja conhecido, o que de certa forma também faz com que o rótulo de jornalismo literário não encaixe muito bem, não há exatamente investigação ou jornalismo à vista, embora certamente exista pesquisa em materiais históricos, principalmente arquivos visuais do III Reich e biografias políticas de figuras envolvidas nos episódios narrados. É ficção e isso basta, no sentido de que o que importa, o que faz A Ordem do Dia merecer existir, é primeiro o seu estilo (completamente instaurado nas duas frases que abrem o livro: “O sol é um astro frio. Seu coração, espinhos de gelo”.) e a escolha e ordenação dos episódios narrados. A Ordem do Dia, por mais que lide com um material estritamente político, produz mais reflexões do que propostas de engajamento; abre um distanciamento curto mas suficiente para manter vibrante e instável um tempo que se encontra corrompido por inúmeros clichês.
O que o narrador nos conta já é informação dos livros de História e documentos antigos, mas sua função é a de remontar, relembrar. Se essa função parece xamânica, também as metáforas mais forte que ele utiliza pertencem a este mundo anêmico e dominado pelas forças mais destrutivas da natureza. As empresas são deuses, existências acima dos indivíduos que servem de veículo para pulsões brutais, obedecendo a interesses que parecem pertencer a mitos, entidades religiosas ou forças alheias aos coletivos humanos (“Mas as empresas não morrem como os homens. São corpos místicos que não perecem jamais”). Contra essas entidades cuja vida é mais que a de algumas nações, a literatura pode petrificar, parar o tempo. A reunião fatídica entre os 24 representantes das empresas que financiaram o III Reich pode entrar em suspenso:
“A literatura permite tudo, dizem. Eu poderia então fazê-los dar voltas infinitas nas escadas de Penrose, nunca mais poderiam descer ou subir, fariam sempre uma coisa e outra ao mesmo tempo. E, na verdade, é um pouco o efeito que os livros causam. O tempo das palavras, compacto ou líquido, impenetrável ou espesso, denso, estendido, granuloso, petrifica os movimentos, medusa. Nossos personagens estão no palácio para sempre, como em um castelo enfeitiçado. Ali estão, atingidos, por um raio desde a entrada, petrificados, congelados. As portas estão ao mesmo tempo abertas e fechadas, as janelas sobre as portas estão gastas, arrancadas, destruídas ou repintadas. A escadaria brilha, mas está vazia, o lustre cintila, mas está morto. Estamos simultaneamente em todos os lugares do mundo”.
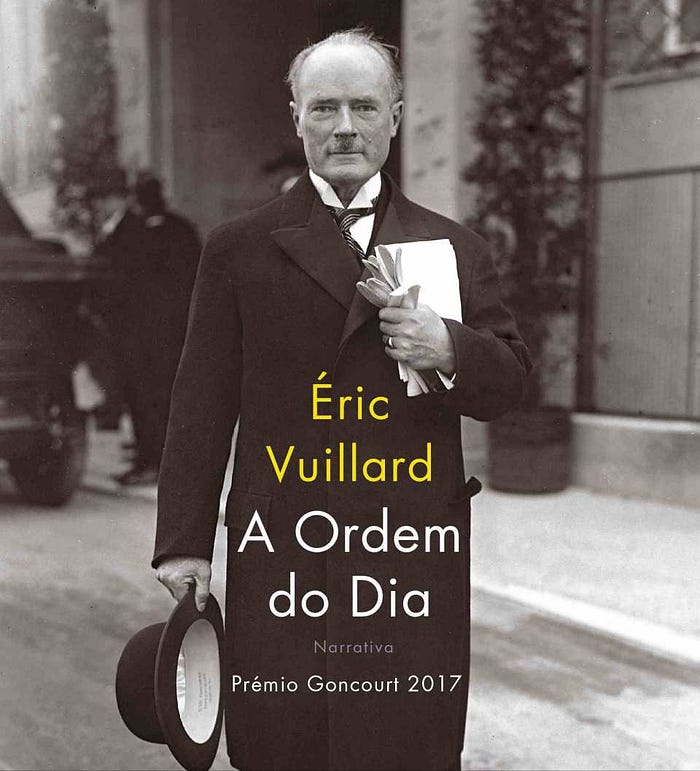
A escrita literária pertence a um tempo que escapa aos cronômetros, é medusa, mito. A luz que o narrador lança sobre a história é a luz de um lustre morto, de um astro frio, um brilho melancólico. Há magia nessa literatura, ela também é uma força natural, mas também anti-natural, como se a literatura pudesse, de certo modo, enfrentar forças como as que movem as empresas e líderes do III Reich, mas só o fizesse porque a literatura tem parentesco com esse espírito. As empresas esmagam a natureza e os homens mas continuam sua empreitada de destruição. A narrativa literária violenta a natureza apenas para de alguma forma continuá-la. A literatura no fim tira sua força de sua impotência.
O corpo de Hitler também pertence a este reino mítico e bestial:
“O corpo é um instrumento de prazer. O corpo de Hitler se agita descontroladamente. Está rígido como um autômato e virulento como um escarro. O corpo de Hitler deve ter penetrado as sombras e as consciências; acreditamos tê-la reencontrado nas sombras dos tempos, sobre os muros das prisões, rastejando sob o estrado das camas, em todos os lugares em que os homens gravaram as silhuetas que os assombram”.
Como uma entidade, a imagem de Hitler vive mais do que sua carne; ela própria é o veículo de forças das trevas, as mesmas que se anunciam nas pinturas que Louis Soutter faz no asilo, no momento em que Hitler se prepara para invadir a Áustria, como salienta o narrador. A opção de Vuillard por contar episódios menos pomposos da II Guerra é uma tentativa de subtrair o heroísmo de um período que se tornou um espetáculo. Aqui tomam a frente os erros, os líderes insignificantes, a política íntima, as fraquezas dos líderes das potências estrangeiras. É a ordem do dia, o mal nazista secretado pelas instituições democráticas. Tudo é hodierno, vulgar. Estamos nas antípodas do nazismo dos jogos de videogame. A parada de tanques militares encalha na estrada:
“No papel, a Áustria está morta; caiu sob a tutela alemã. Mas, como se vê, nada aqui tem a densidade do pesadelo, nem o esplendor do medo. Somente o aspecto pegajoso das combinações e da impostura. Sem altivez violenta nem falas terríveis e desumanas, nada além da ameaça, brutal, da propaganda, repetitiva e vulgar.”
O nazismo não tem nada de extraordinário em seu desenvolvimento. Por ser tão vulgar, é que sua ameaça nunca nos deixa por completo.
Schuschnigg, chanceler da Áustria, aparece na narrativa de Vuillard como uma cifra de impotência. Não só a história o absolverá como será um cidadão modelo nos Estados Unidos; professor universitário. As leis, as convenções, os tratados e as normas caem diante dos fatos acabados. A democracia cede à força. Mas é também o blefe:
“E o que espanta nessa guerra é o sucesso inaudito da desfaçatez, do que se guarda numa coisa: o mundo cede ao blefe. Mesmo o mais sério, o mais rígido dos mundos, mesmo a velha ordem, se ela jamais cede à exigência de justiça, se jamais se curva frente ao povo que se insurge, ela se curva frente ao blefe.”
O blefe. A pantomima entre Ribbentrop e Goering, dissimulando ao telefone e, quando descobertos, no tribunal de Nuremberg, o riso que explode no meio das ruínas.
O nazismo em A Ordem do dia parece um espetáculo vulgar, melhor representado pelo Hollywood Custom Palace, a locadora de figurinos. Esse depósito é o mais concreto que se pode vislumbrar desse espetáculo; o inconsciente da história. Antes da II Guerra explodir, os trajes nazistas, em farrapos, já estavam lá, e um funcionário judeu engraxava suas botas:
“… a guerra já estava lá, nas prateleiras do espetáculo. A grande máquina americana parece já ter se apossado de seu imenso tumulto. Ela só contará a guerra sob a forma de proeza. Fará dela um rendimento um tema. Um bom negócio.”
As imagens do arquivo nazista revelam um panorama homogêneo. O narrador questiona se não seria a mesma multidão artificial em todos os vídeos e fotos: “as imagens que temos da guerra são, para a eternidade, uma montagem de Joseph Goebbels. A História se desenrola sob nossos olhos, como um filme de Joseph Goebbels.”
O livro se encerra com uma piada de Walter Benjamin, envolvendo o suicídio de judeus com gás de cozinha. Verdadeiro ou não o fato que gera a piada, impulsiona um humor mórbido que carrega a mesma magia da literatura. Vuillard organizou os momentos narrados e, retirando-os do contínuo da História, exibe o que há ali de perpétuo. Não só de eterno, mas de repetição. Cada capítulo possui um pequenino encanto mórbido.
